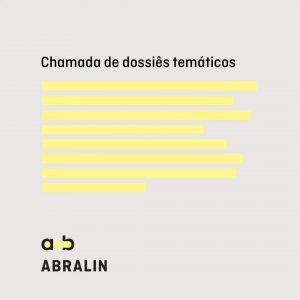II Jornada de Estudos em Português Língua Internacional (JEPLI)
Nos dias 05 e 06 de maio de 2022, acontecerá na UERJ a II Jornada de Estudos em Português Língua Internacional (JEPLI). O evento, online e gratuito, está com inscrições abertas para ouvintes e comunicadores, havendo previsão de publicação dos textos.
Com o duplo objetivo de fazer memória do Dia Internacional da Língua Portuguesa e discutir aspectos da nova presença do português no mundo, a Jornada de estudos em português língua internacional – JEPLI – convida todos os interessados a participarem.
Os resumos, contendo entre 200 e 300 palavras e de 3 a 5 palavras-chave, devem ser enviados para jornadajepli@gmail.com até o dia 30/04/22.
Todas as informações podem ser vistas no site do evento.
Câmara de Graduação regulamenta processo seletivo para ingresso na UFSC de pessoas refugiadas
A Câmara de Graduação (CGRAD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) regulamentou o processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da Universidade de pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio de baixa renda e portadoras de visto humanitário. A UFSC oferecerá dez vagas remanescentes do Vestibular UFSC 2022 em cursos do campus de Florianópolis, para ingresso no segundo semestre letivo, com um máximo de uma vaga por curso. O segundo semestre da graduação na UFSC começa no dia 25 de agosto.
“É fundamental que as instituições de ensino superior públicas, como a UFSC, implementem programas e ações afirmativas como forma de promoção de equidade e justiça social. O ingresso de pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e portadoras de visto humanitário é mais um passo para visibilizar questões importantes como o acolhimento e promover uma cultura anti-racista, não xenófoba e não preconceituosa. Além disso, temos a certeza de que a UFSC tem muito a se beneficiar com uma maior diversidade em relação ao perfil de nossos estudantes e com os diálogos interculturais decorrentes”, destaca Janaína Santos, da comissão para tratar da Política de Ingresso para pessoas refugiadas ou portadoras de visto Humanitário (PRVH) na Universidade Federal de Santa Catarina.
O processo seletivo será realizado pela Comissão Permanente do Vestibular (Coperve). A seleção de candidatos(as) para essas vagas remanescentes será feita por meio de prova, a ser realizada em um único dia, no campus de Florianópolis. A prova será composta por 30 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Língua Estrangeira e uma Redação. A Coperve planeja realizar a prova em meados de junho.
V Congresso Internacional de Letras – CONIL – Carnavalização na língua e na linguagem
O V Congresso Internacional de Letras – CONIL, este ano celebra a variação e a diversidade linguística e cultural. A proposta central do evento é reunir discussões e pesquisas em torno da visibilidade de culturas consideradas marginais. Desse modo, essas e outras temáticas do grande campo das ciências sociais e humanas serão discutidas no evento.
O período para o envio de resumo de trabalho é entre 21 de março e 19 de junho de 2022.
O V CONIL vai disponibilizar 16 simpósios de diferentes temáticas do campo das Letras e demais áreas das ciências Humanas e sociais.
Para mais informações, acesse ao site do evento: http://conilufma.com.br/
Recrutamento de Professores de Língua Portuguesa para o projeto PRO-Português | Timor-Leste
A Coutinho, Neto & Orey no âmbito da sua atividade de recrutamento encontra-se a desenvolver um processo de seleção para o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.), para a posição de 13 Professores de Língua Portuguesa, para integrarem o projeto PRO-Português. O prazo limite de candidatura é 30 de abril de 2022.
O Projeto PRO-Português tem como objetivo global “contribuir para a consolidação do sistema educativo de Timor-Leste, através do apoio ao setor da formação profissional e contínua do pessoal docente do sistema educativo do Ensino Não Superior” e, como objetivos específicos, “i) constituir uma Bolsa de Formadores Nacionais, a nível de Posto Administrativo, e consolidar as suas competências técnico-científicas, didático-pedagógicas e linguístico-comunicativas para ministrarem Cursos de Língua Portuguesa (Níveis A2, B1 e B2); ii) reforçar as competências linguístico-comunicativas em Língua Portuguesa de docentes de todos os níveis de ensino (Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário) do sistema educativo do Ensino Não Superior de Timor-Leste”.
Mais informações no site da Neto & Orey
Jornada de Mobilização da Década Internacional das Línguas Indígenas
JORNADA DE MOBILIZAÇÃO da “Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil (20222032) tem o intuito de mobilizar as comunidades indígenas para o engajamento nas ações da Década das Línguas Indígenas e sensibilizar a sociedade envolvente para o reconhecimento da diversidade linguística e cultural dos povos indígenas por meio de mesas de discussão que abordarão temáticas que envolvem a defesa das línguas indígenas.
A Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) foi instituída na Assembleia Geral das Nações Unidas de 18 de dezembro de 2019, dando seguimento aos debates ocorridos no âmbito do Ano Internacional das Línguas Indígenas proclamado pela UNESCO em 2019. No ano de 2020, na Cidade do México, foi elaborado a Declaração de Los Pinos, que definiu os princípios-chave que orientam a Década Internacional, como a participação efetiva dos povos indígenas nos processos de tomada de decisão, consulta, planejamento e implementação.
No Brasil, os povos indígenas estão se organizando e reafirmando seu protagonismo na construção das ações para essa década e propuseram a criação de GTs, a nível nacional, para a elaboração deste plano de ação: o Grupo de Trabalho de Línguas Indígenas, o Grupo de Trabalho do Português Indígena e o Grupo de Trabalho das Línguas de Sinais Indígenas; e a criação de GTs Regionais e Estaduais que estão em processo de construção. Há um grande chamado para construirmos um novo tempo para as línguas indígenas brasileiras: “fortalecendo nosso espírito, nossa ancestralidade, nosso território, nossa língua” (Altaci Kokama).